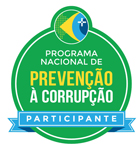Previdência, uma trajetória explosiva

Milton André Stella
Economista, Coordenador Curso de Ciências Econômicas PUCRS
Corecon/RS nº 6663
O Brasil vive um momento dramático nas suas finanças públicas, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Quais as principais razões dessa situação?
Este ano de 2016 será o terceiro ano de déficit primário consecutivo do setor público federal, o que é algo preocupante, na medida em que são déficits crescentes e, portanto, se acende uma luz amarela. Aliás, o debate político central ao longo de todo o ano passado e, também, deste ano, já vem ocorrendo sobre a necessidade de se fazer um ajuste fiscal mais severo.
Como é que se chegou a esse ponto?
Falta de controle e políticas equivocadas. Com o tempo, foi-se criando uma série de despesas que não tinham possibilidade de serem reduzidas num cenário de depressão econômica e, agora, quando a economia começou a decrescer e teve início a queda de arrecadação, o governo não está conseguindo reverter. Não quer fazer cortes mais significativos e necessários. Hoje ele não tem capacidade de reduzir boa parte dessas despesas porque são políticas de efeitos sobre salários. O reajuste do salário mínimo, por exemplo, impacta diretamente na previdência social e isso não se pode voltar atrás.
E a causa dos déficits dos estados?
A essência do problema dos estados, que também vem se agravando, é praticamente a mesma. Todos os estados estão com suas máquinas públicas inchadas, com um contingente de pessoas se aposentando em maior volume, o que vai gerando um conjunto crescente de despesas, que não se consegue reverter. Adiciona-se a essa situação, uma economia que vem perdendo tamanho e dinamismo, com crescimento negativo nos últimos anos, provocando uma queda muito intensa de arrecadação. Tanto a União quanto nos estados, a essência de seus déficits é uma estrutura de pessoal inchada e com despesas previdenciárias muito elevadas.
Qual o déficit previdenciário federal atual?
Inicialmente, é importante destacar que o sistema previdenciário brasileiro pode ser classificado em duas categorias: Regime Geral de Previdência Social e Regimes Próprios de Previdência Social. O chamado Regime Geral atende a grande massa de aposentados (em geral trabalhadores do setor privado do meio urbano e rural). O Regime Próprio contempla grande parte dos trabalhadores do setor público (civis e militares).
Ambos os regimes são deficitários, mas possuem características muito relevantes que os distinguem. Somados os déficits dos dois regimes o valor superou os R$ 170 bilhões em 2015.
Qual o tamanho do déficit de cada uma dos regimes de aposentadoria?
No regime geral, que é a grande população dos aposentados do serviço privado, os celetistas, entre outros, em 2015 foi registrado um déficit de R$ 104 bilhões, enquanto, no ano anterior havia sido de R$ 55 bilhões, portanto, uma trajetória explosiva, já que dobra de tamanho em apenas um ano. E isso tem relação direta com a política do salario mínimo. Essa é uma previdência que atende em torno de 28 milhões de pessoas, onde se encontra a grande massa de aposentados brasileiros. No entanto, ao se olhar o regime próprio de previdência, que é o dos servidores públicos, que possuem uma carreira diferenciada, com algumas proteções legais, o déficit em 2015 foi de R$ 72,5 bilhões de reais, quase o mesmo valor do quadro do regime geral, mas que atende um universo de cerca de um milhão de pessoas. Ou seja, esta situação ainda é mais grave por tratar-se de um regime altamente concentrador de renda, já que, além de estar distribuindo um valor para um universo de pessoas bem menor que o regime geral, ainda reúne os salários mais elevados, das carreiras mais valorizadas do setor público. Só para se ter uma ideia, em 2013 o déficit per capita da previdência do regime próprio era de R$ 1,7 mil, ou seja, cada aposentado recebe, em média, esse valor do orçamento público, para fechar a conta entre o que contribuiu e o que pagou. No regime próprio da União, esse déficit per capita é de R$ 65 mil reais, ou seja, os cidadãos brasileiros, com seus tributos, financiam esse valor anualmente para cada aposentado do regime próprio. É um modelo absurdo, tão concentrador de renda e tão desigual, que não existe algo semelhante em outro lugar no mundo.
E não existem meios de estancar esse processo?
A curto prazo não. Dado esse cenário extremamente perigoso, algumas medidas foram sendo tomadas ao longo do tempo para tentar amenizar a situação. No que compete ao regime geral, as mudanças visaram aumentar a idade de aposentadoria, compatibilizando o sistema previdenciário a expectativa de vida crescente da população, ou desestimulando as aposentadorias precoces. As pessoas não podem mais se aposentar com a mesma idade que se aposentavam há 20 anos. Estender o tempo de contribuição faz sentido, na medida em que a expectativa de vida e a capacidade de trabalho estão aumentando, e, com isso, vai se conseguindo um pouco de fôlego para amenizar o problema. É importante destacar que o déficit do Regime Geral é muito afetado pelos aposentados rurais e possivelmente alguma mudança neste ponto tenha que ocorrer no futuro.
No que se refere ao regime próprio, a Emenda Constitucional Número 40, de 2003, foi uma medida extremamente importante, pois acabou com a paridade do salário do aposentado com o profissional da ativa, com a implantação do cálculo da média dos últimos vencimentos no momento da aposentadoria. Apenas em 2012 ocorreu outra mudança importante, que foi a criação do regime de previdência complementar do servidor público federal. Foram criados três fundos, um para cada poder, e, a partir daí, os servidores passaram a ter a opção de contribuir para a sua previdência complementar. Quem não contribui aposenta-se pelo teto do INSS, como qualquer trabalhador do setor privado. Foi, sem dúvida, uma mudança que, de certa forma, colocou as coisas no seu devido lugar.
Mas por que essas medidas não resolveram o problema?
Porque exigem um período de tempo para que essas medidas comecem a surtir efeito de forma que que possam ser considerados como definitivos. Serão necessários cerca de 30 anos até que essa geração que entra agora comece a se aposentar. Enquanto isso, a situação da previdência pública continua piorando. Os novos funcionários da ativa vão contribuir sob o teto do INSS, mas os aposentados continuam recebendo de acordo com seus salários antigos, pela média dos últimos anos de trabalho ou seus salários integrais, que são os casos daqueles que se aposentaram antes da Emenda Constitucional de 2012. As projeções da Secretaria de Política e Previdência Social indicam que ainda teremos um crescimento do déficit até 2040, para somente depois ter-se um decréscimo. Apenas em 2050 seria revertida efetivamente a situação de déficit da previdência, passando, assim, a ter um resultado primário superavitário.