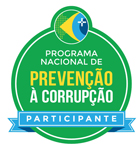José Junior de Oliveira
Economista, analista de Mercado de Capitais, presidente da Apimec-Sul
Corecon/RS Nº 5500
Qual a função da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec)?
A Apimec, pelo lado do analista, é a entidade nacional responsável pela certificação e fiscalização dos profissionais que atuam no mercado de capitais, o que permite conceder o chamado CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento do Mercado de Capitais, cujo poder de certificação foi outorgado à Apimec pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão governamental que fiscaliza o mercado de capitais no Brasil. Esta certificação profissional funciona como um “selo de qualidade” para os profissionais que atuam no mercado de capitais. Desde as provas, avaliação e o acompanhamento sobre se os profissionais estão agindo de maneira adequada no mercado é realizado pela Apimec Nacional, com sede em São Paulo. Temos, também, uma atuação forte na questão da educação financeira. A Apimec tem a responsabilidade de treinar e qualificar profissionais e investidores através de cursos voltados ao mercado que vão desde a Introdução ao Mercado de Capitais até o MBA em Mercado de Capitais. Os cursos abordam investimentos em ações, mercado financeiro, renda fixa, debêntures, títulos públicos, títulos privados, enfim, todas as alternativas de investimento existentes no mercado, de forma que possam entender essas operações, suas perspectivas de retorno e os riscos envolvidos em cada uma delas. O carro chefe da Apimec é a educação do mercado, já que, para investir no mercado de capitais, é preciso entender como funciona.
Qual o perfil dos candidatos aos cursos?
O perfil é variado. Quando a bolsa estava num período bem positivo no Brasil, até 2008, por exemplo, tínhamos além de economistas, administradores e contadores, médicos, advogados, engenheiros e profissionais de outras áreas que frequentavam desde os cursos mais básicos até os mais aprofundados, para entender o funcionamento do mercado de capitais e investir seus recursos de maneira diversificada. Entretanto, os profissionais formados em áreas mais relacionadas com finanças, como é o caso dos economistas, com certeza têm mais afinidade com os conteúdos propostos.
Como funciona a relação com as empresas?
A Apimec tem essa função, de certificação, educação e fiscalização, mas também tem a relação com as empresas de capital aberto, ou seja, as empresas com ações negociadas na bola de valores, que se dá através de reuniões para divulgação de resultados. As empresas de capital aberto, divulgam seus resultados e vêm a público, através da Apimec, onde os analistas têm um conhecimento mais profundo do mercado e onde conseguimos ter essa proximidade, saber o que estão fazendo na área de gestão, investimentos, planejamento, cenários, enriquecendo e subsidiando os analistas em suas análises e os investidores no processo de tomada de decisões e posicionamentos sobre a realidade que envolve o mercado.
Como a Apimec está vendo esse momento de instabilidade econômica?
Com muita cautela. Depois de muitos anos tentando derrubar a inflação, o Brasil conquistou estabilidade na economia através do Plano Real. O País conseguiu ter uma moeda forte e estável, que proporciona um planejamento de longo prazo, ambiente propício para fazer reformas essenciais, como as reformas da previdência e tributaria, para melhorar o ambiente de negócios e, consequentemente, fazer a economia crescer. Hoje, talvez não dê pra se dizer que estejamos pessimistas, mas estamos bastante cautelosos. Desde 2008, com exceção de 2009, quando o mercado de capitais teve uma retomada, não vemos mais as empresas procurando o mercado de capitais para emitir ações de forma a captar recursos de longo prazo e investir nos seus negócios. O que percebemos é uma economia que não cresce, sem perspectivas, com descontrole nas contas públicas, um governo gastando mais do que arrecada e inflação em elevação, fatos que nos deixam com um cenário de curto e médio prazo bem preocupante. Isso nos coloca numa situação de pessimismo, já que os resultados serão o enfraquecimento do nível da atividade econômica e consequente aumento do desemprego. Neste contexto, o mercado de capitais que poderia ser o propulsor do crescimento e desenvolvimento, com recursos dos investidores sendo canalizados para as empresas, de forma que pudessem alocar os recursos no setor produtivo, gerando negócios, empregos, renda e crescimento, observa-se, nos últimos anos, uma redução do mercado e de uma importante fonte de financiamento de longo prazo.
Vocês sentem essa ansiedade nas reuniões com as empresas?
Sentimos muita ansiedade e um certo desânimo. O cenário que vislumbramos é de pessimismo. Não vemos perspectivas de um ambiente econômico e político que permita retomar os investimentos. O País tem muitas reformas para fazer. O governo tem que fazer o dever de casa, arrumando suas contas através de um ajuste fiscal crível que permita maior estabilidade econômica e controle da dívida pública, que hoje se encontra em torno de 66% do PIB, já tem projeção de ultrapassar os 80% do PIB em 2018. Como está hoje, os juros tendem a permanecer em patamares elevados e o risco aumentar. Aliás, isso já nos custou o rebaixamento do nível de risco da dívida brasileira para grau especulativo pelas principais agências de rating internacionais. Não podemos deixar de ressaltar que a economia brasileira praticamente não cresceu em 2014 (PIB 0,1%) e em 2015 (PIB -3,8%), e a perspectiva para 2016 é negativa. Nos últimos dois anos, os empresários simplesmente não investiram, em função das incertezas que são muito grandes, principalmente porque esse ambiente de instabilidade política e econômica é extremamente ruim para a economia do País.
Qual a orientação da Apimec para o investidor, nesse momento de instabilidade e incertezas?
Ser cauteloso, conservador, fugir do risco. Aquele que quer investir em ações hoje, tem boas opções, mas deve olhar com muito cuidado. Investir nas empresas mais sólidas, com perspectivas de geração de valor no médio e longo prazos e fazer uma análise mais detalhada. Enfim, optar por investimentos que sejam menos arriscados. Caso não queira investir em ações, por entender que o risco pode ser elevado, o interessante é procurar investimentos mais conservadores, como títulos de renda fixa de instituições de menor risco ou até mesmo títulos da dívida pública.
Como explica essa resposta tão instantânea do mercado a determinadas ações politicas do governo, como impeachment, posses, decisões do Judiciário, entre outras, que têm provocado constantes oscilações dos preços da moeda e da bolsa de valores no mercado?
Atualmente, o mercado de capitais está extremamente influenciado pelo ambiente político. Qualquer perspectiva de mudança no cenário altera o humor dos investidores. A expectativa do mercado é que o país tenha um rumo para a economia com um ajuste nas contas públicas, controle da inflação e retomadas do investimento e do nível de emprego. Ou seja, um cenário econômico que propicie o ambiente de negócios. Diante disso, qualquer possibilidade de alteração no rumo do país, com mudanças na política econômica com planejamento de longo prazo, menos intervenções por parte do governo e menor influência política leva a uma reação dos investidores e isso faz com que o mercado fique mais volátil. O mercado quer uma regulação que seja adequada para os negócios acontecerem, e não de intervenções nos setores, ou mudanças nas regras de determinados setores sem o devido conhecimento das suas peculiaridades ou complexidades, isso pode causar problemas estruturais. Quando o governo intervém no mercado a todo o momento, como por exemplo, estabelecendo taxas de retorno de determinados investimentos, os investidores não se sentem seguros e confortáveis para alocar seus recursos e os empresários ficam com receito de investir, já que não tem perspectiva na economia e não tem segurança jurídica nos negócios, do ponto de vista de investimento e de retorno. Um governo que faz concessões do serviço público e quer determinar até a taxa de retorno que o empresário pode ter, é muito difícil de encontrar a empatia do setor. Esse ambiente de negócios sem a definição clara das regras está muito complicado.
Qual a alternativa para o mercado?
A alternativa seria uma mudança na condução da política econômica, independentemente de posições políticas, partidárias e ideológicas do governo. O mercado vislumbra a possibilidade de uma melhora no ambiente econômico, com a possibilidade de utilização do mercado de capitais para financiar o setor produtivo. Para se ter uma ideia, em 2015 e 2016 praticamente não ocorreram aberturas de capital de empresas. Essa importante alternativa de financiamento do setor produtivo não está sendo utilizada no Brasil porque o ambiente econômico não favorece. O cenário atual eleva o risco para os investidores e o país fica paralisado. Na Argentina, por exemplo, a simples mudança do cenário político já trouxe, por si só, expectativas de melhora no ambiente econômico e de negócios, fazendo com que as pessoas voltassem a acreditar e recomeçassem a comprar ações e retomar os investimentos, inclusive diretos na economia. Logicamente, tem que cuidar muito porque há muita especulação financeira no mercado, tanto em relação ao dólar, como às ações. Há de se ter cautela porque após o período de melhora nas expectativas de curto prazo é necessário que sejam retomadas as reformas para se obter resultados de longo prazo. A simples troca de governo ou mudanças pontuais no governo atual não vai resolver o cenário de estabilidade econômica e crescimento sem que seja retomada uma agenda realmente comprometida e positiva.
Nesse momento de incertezas e oscilação do mercado, como as pessoas comuns devem se comportar?
Quem não é investidor, especialista, é melhor e mais seguro ter cautela. Evitar o risco elevado e as oscilações bruscas do mercado. Por exemplo, se um investidor, diante de uma queda repentina das ações de determinada empresa, decide comprar, por entender que o preço está atrativo ou que se desvalorizou a ponto de estar “barata” a ação, e, em seguida, surge mais uma notícia que influencia negativamente as ações da empresa e acontece nova queda, pode haver o risco de maiores perdas ou terá que realizar um prejuízo. Ou seja, se o investidor não acertar o timing, poderá sofrer perdas, pois neste momento, não existe uma tendência no mercado, ele está muito volátil e com riscos mais elevados, ou seja, está muito especulativo. Por isso, além de analisar os preços das ações no mercado, o investidor deve ficar atento aos resultados das empresas e indicadores, tais como: rentabilidade, geração de caixa, endividamento, perspectivas do negócio da companhia no longo prazo. Neste caso, talvez possa ser um momento para comprar ações, mas tem que ser muito criterioso e ter uma prospecção de longo prazo, de cinco ou seis anos. No curto prazo o risco é elevado, ser conservador é mais prudente. Talvez a renda fixa seja mais apropriada para o momento atual.
A renda fixa com bons atrativos é um bom negócio?
A renda fixa tem bons atrativos, como as Letras de Crédito Imobiliários (LCIs) e as Letras de Créditos Agrícolas (LCAs), como boas opções para as pessoas físicas, porque têm isenção de imposto de renda e possuem uma taxa de rentabilidade líquida superior às taxas do Certificado de depósito Interfinanceiro - CDI (benchmark), e ainda são pós-fixadas, ou seja, se o juro subir elas também sobem, fazendo com que o investidor fique protegido quanto ao risco do mercado. Nesses casos, deve-se cuidar apenas a instituição financeira onde estão sendo alocados os recursos, já que os bancos também têm riscos. Os CDBs pós-fixados também, neste momento, podem ser uma boa opção, já que os juros podem subir mais, caso a inflação continuar se elevando. Outra alternativa são os títulos prefixados, onde as taxas de juros são estabelecidas no momento do investimento Adicionalmente, os títulos do Governo, que, mesmo com a dívida pública crescente ainda são títulos que oferecem boa rentabilidade, com baixo risco, tanto os indexados à taxa Selic (pós-fixados), como os prefixados e os títulos indexados à índices de Inflação mais uma taxa prefixada de juros, como as Notas do Tesouro Nacional – Série B - NTN-B. O investidor pode comprar um título público com investimentos a partir de R$ 30, no site do Tesouro Direto (www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto). Para isso vai precisar de uma corretora de valores para intermediar a operação. Enfim, se o investidor tem essa preocupação com a instabilidade, pode comprar títulos de renda fixa, tanto do governo como de instituições financeiras, procurar operar com bancos de baixo risco e, além de proteger seu capital fica protegido da inflação e também fica livre dessas oscilações bruscas do mercado. Pelo menos, até passar esse período de maior risco.