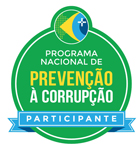Antonio da Luz
Conselheiro Corecon/RS, Economista-Chefe do Sistema Farsul
Corecon/RS nº 7549
Quais as expectativas para os principais grãos na safra de verão no RS?
Os produtores colheram a maior safra da história em 2015, um forte crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Para 2016, a área aumentou 1%, o que significa que a intenção dos produtores era crescer em 2016. Entretanto, primeiramente o atraso no plantio e em seguida as enchentes, ambos ocasionados pelo excesso de chuvas, determinaram perdas imediatas e projeção de queda de produtividade. Com isso, deveremos ter uma queda de 6% na produção para a safra deste ano.
Quando já se podem ter os primeiros resultados da safra de grãos?
Em fevereiro, já há colheita de milho e de arroz. Mas o forte da safra ocorre entre abril e maio.
Entre os principais grãos, arroz, feijão, milho e soja, quais produtos têm a melhor relação de preços para o produtor?
De forma generalizada, os preços dos grãos estão muito baixos no mercado internacional, seja pela queda ocasionada pelos fundamentos de mercado de outras commodities, que terminam refletindo nas commodities agrícolas, como é o caso dos metais e petróleo, ou seja pelo excesso de oferta de grãos no biênio 2014-15. No Brasil, ao contrário do que está acontecendo no mundo, os preços estão em patamares bons em razão da taxa de câmbio. A depreciação do real não impacta da mesma forma no preço de todas os grãos, pois quanto mais internacionalizada for a produção, como no caso da soja, maior correlação entre a taxa de câmbio e o preço. Já para grãos com baixa internacionalização, como o feijão, por exemplo, a taxa de câmbio exerce uma influência menor. Como os preços da soja são os mais influenciados pela taxa de câmbio, então, ela sem dúvida, é a maior beneficiada.
De que forma isso vem se refletindo na alteração da área plantada?
Os produtores rurais, como qualquer empresário que opera em mercado atomizado, têm sua curva de oferta diretamente relacionada ao preço. Quanto maior o preço, maior é a tendência de aumento da produção. Os preços estão em patamares mais elevados de maneira geral, dando os incentivos para um aumento geral da área para o próximo ciclo. Aqueles preços que aumentaram em maior magnitude, como o caso da soja, trouxeram uma elevação da área plantada maior, em torno de 5%.
Quais os impactos da depreciação do real nos resultados finais da safra?
A taxa de câmbio exerce uma influência bidimensional nos mercados agropecuários, pois impacta nos custos de produção e na receita recebida. Os custos de produção são afetados de forma generalizada, pois as produções agropecuárias, salvo exceções, utilizam semelhantes pacotes tecnológicos e com composições de produto importado e nacional muito semelhantes. Se a taxa de câmbio aumenta, os custos de produção também se elevam de forma generalizada. Já as receitas, que dependem do preço recebido, têm um comportamento distinto, dependendo do grau de internacionalização do produto. Para grãos como soja, há ganhos líquidos significativos com a apreciação da taxa de câmbio, enquanto que, para produtos onde o mercado interno exerce maior poder de determinação do preço. No caso do arroz, nesse cenário, os ganhos são limitados ou nulos, e no do feijão, há perdas.
De que forma o fim dos impostos dos produtos de exportação agrícolas argentinos, decretados recentemente pelo governo Macri, pode influenciar nos números desta safra?
O governo Kirshner reeditou medidas que, reconhecidamente, já haviam fracassadas ao longo do século passado. Como brasileiros, devemos estar atentos a estes resultados, pois há diversas pessoas que desejam que o Brasil cometa os mesmos erros da Argentina. A intenção do governo era aumentar a taxa de industrialização dos produtos agropecuários, pressupondo que estes não possuem valor agregado. O resultado, como era de se esperar, foi um desastre. As exportações da famosa carne argentina foram no ano passado 156% inferiores às do ano imediatamente anterior à medida. O maior estoque mundial de soja está na Argentina, sendo mais do que o triplo da China, que é o maior consumidor. O famoso trigo argentino teve a menor área plantada em 110 anos no ano passado, graças também a essas medidas. O resultado prático dessas medidas é que a agropecuária argentina está sucateada. As indústrias fornecedoras, como máquinas agrícolas, fertilizantes, química, farmacêutica, entre outras, minguaram. Os serviços especializados sofreram uma grande depressão e as indústrias compradoras do produto, as supostamente beneficiadas, encolheram sua produção para patamares inferiores às medidas. Somado a isso, ainda perderam o ciclo de expansão de algumas commodities. Foi um caos para o país. Eu não acredito que a próxima safra seja muito influenciada pela Argentina, pois a cadeia produtiva, à montante e à jusante da agropecuária, estão em muito mau estado. Entretanto, as medidas do novo governo vêm ao encontro da pauta do empresariado e, em alguns anos, deverão voltar a ser importantes. Meu único receio é o imenso estoque de soja, que poderá inundar o mercado, caso a tributação venha a ser retirada toda de uma vez.
Como fica a tendência da área plantada da soja, nosso principal grão de exportação, para os próximos anos, em função dos preços internacionais?
Os preços internacionais estão baixos, não por falta de demanda, mas por excesso de oferta. Nós continuamos a expandir a oferta porque a taxa de câmbio mascara a queda dos preços lá fora. Creio que enquanto o real continuar depreciado nós poderemos, no mínimo, manter a área plantada. Caso haja uma inflexão na trajetória da taxa de câmbio, possivelmente precisaremos fazer as mesmas correções na oferta que estão sendo feitas lá fora.
Como está a relação custo de produção/lucro desta safra?
As margens de lucro estão extremamente achatadas. Os custos de produção aumentaram em média 25% entre as safras 2015 e 2016. O principal item, como já mencionado, foi a taxa de câmbio, mas tivemos também fortes aumentos nos combustíveis, na energia elétrica e nos juros do crédito. É bem verdade que os preços recebidos também aumentaram, mas a expectativa de menor produtividade em razão do “El Niño” coloca todo o mundo em risco elevado.