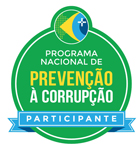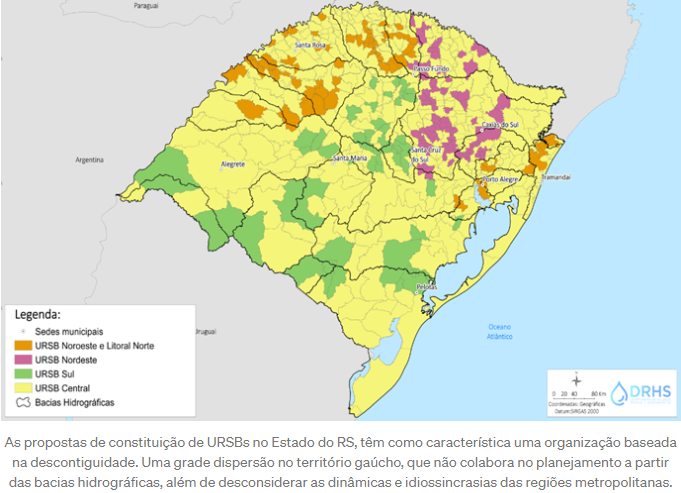Vida mais cara
Não há dúvida de que a vida está mais cara para todos os brasileiros, especialmente para a população de baixa renda. A pandemia desencadeou um processo de empobrecimento que atinge grande parte da população, sem perspectiva, no momento, de que possa melhorar.
O custo da cesta básica tem aumentado em todas as capitais, sendo que em São Paulo é de R$ 1.064,79, até o presente e continua subindo, reduzindo o poder de compra do salário mínimo para quem ainda manteve seu emprego no período. No Rio Grande do Sul, a cesta já ultrapassou os R$ 650,00, ou 63% do salário mínimo vigente.
Os outros 14 milhões de desempregados desesperançosos, vivem na extrema pobreza e dependem da ajuda das suas comunidades ou das ações sociais do governo. Entretanto, não são somente os alimentos da cesta básica que estão mais caros. Automóveis, roupas, calçados, medicamentos, brinquedos, perfumes e restaurantes, também aumentaram seus preços, exigindo dos consumidores pesquisas antes da compra. Um dos índices usados pelos turistas brasileiros que circulam pelo exterior, para avaliar o custo de vida no Brasil em relação aos outros países, é o preço do Big Mac e já comentam que no Brasil, atualmente, este alimento é um dos mais caros do mundo, ou seja, o quarto mais caro. É claro que tudo isso tem uma explicação, e ela está na valorização do dólar que já ultrapassou os 110% nos últimos oito anos.
A alta do câmbio está impactando a inflação e, esta, por sua vez, no aumento da taxa de juros. Com o dólar valorizado, costuma ser mais rentável exportar do que vender no mercado interno. Esse tem sido um dos motivos da alta de vários produtos que fazem parte da cesta básica no mercado interno como a carne, arroz, óleo de soja e outros. A gasolina não para de aumentar e atinge diretamente quem depende dela para se locomover ou trabalhar e indiretamente a toda a população usuária dos transportes públicos ou privados.
As ofertas de emprego estão cada vez mais difíceis. A maioria das multinacionais instaladas no Brasil, geradoras de milhares de empregos, que precisam dar satisfação às matrizes e aos acionistas internacionais, estão revisando os planos para continuar no Brasil. O motivo é a volatilidade das condições fiscais e econômicas do país, onde se faz necessário reanalisar seus planejamentos a cada três meses. É possível que esta seja uma das razões da saída da Ford do país.
Enquanto isso a desigualdade das classes sociais no país aumenta e já é a maior registrada nos últimos anos. Estatísticas registram que, cerca de 30% da população brasileira tem renda de até ¼ do salário mínimo. Em termos absolutos de 2020 a 2021, o número de pessoas com renda considerada muito baixa passou de 20.230.528 para 24.535.659. Por outro lado, não é apenas a população que está mais pobre, o governo também tem aumentado seus gastos com a máquina pública. O país já tinha um histórico de gastos expressivos, e a pandemia só fez aumentar.
Somente as despesas com os servidores públicos federais cresceram 55% no intervalo de 2004 a 2017, passando de 192 bilhões para 300 bilhões de reais. Estas despesas continuam aumentando, pois nenhum governo, até hoje olhou de frente para a importância de reduzir gastos e a pandemia só fez aumentar o problema. Em 2021 o país completa sete anos seguidos de déficit público e os gastos continuam, no momento, pela necessidade da manutenção dos programas sociais e linhas de crédito especiais, onde já foram destinados 600 bilhões de reais. Com a proximidade das eleições estes valores devem aumentar o que pode gerar um colapso social e econômico, ainda não pensado e discutido pelas autoridades políticas.
Há sempre tempo para a retomada das decisões políticas que resultem em menos instabilidade e gere confiança para quem quer consumir, empregar e investir. O Presidente quer gastar mais, Paulo Guedes, o Ministro da Economia quer gastar menos e o confronto entre a política e a economia deve continuar até o fim do governo.
Artigo de autoria do conselheiro do Corecon-RS e diretor da Associação Comercial de Pelotas (ACP), economista João Carlos Medeiros Madail.